Travo uma batalha quase espiritual com o livro Anna Kariênina há quase cinco anos. Empacada na página 400, me nego a ser derrotada pelos longos trechos enfadonhos que perpassam a belíssima história de Tolstói. O autor compõe a nata da literatura russa. Escreveu Guerra e Paz, um dos romances mais importantes da história mundial. Com certeza, uma boa jornalista deve ter contato com sua obra pelo menos uma vez.
Mas minha insistência não tem nada a ver com isso: eu quero terminar o livro que comecei porque a primeira linha do texto me impactou de tal forma, me intrigou e deslumbrou de tal maneira, que eu preciso, independentemente dos percalços ao longo da leitura, eu preciso — e veja bem, muitas vezes não desejo, mas preciso — ir até o fim.
O impacto do meu primeiro encontro com Stanley Kubrick foi o mesmo: a primeira cena de Laranja Mecânica (1971) é estonteante. Melhor: hipnótica. O prelúdio da perturbação que viria a seguir durante pouco mais de 2h de filme te captura instantaneamente. Sem piscar, o protagonista te encara com olhar ameaçador e sorriso cínico enquanto um zoom out revela um cenário brilhante: homens de branco bebem leite batizado num bar sombrio, provavelmente um pub no subsolo de algum canto em Londres.
A estrutura do local, das mesas ao dispenser de bebida no Korova Milk Bar, são manequins de mulheres nuas em posições indecentes. A palidez e a imobilidade da cena te deixa em posição de guarda. Cuidado! Você não está a salvo.
Para coroar essa atmosfera, Kubrick escolhe como trilha uma marcha fúnebre do século XVII, Music for the Funeral of Queen Mary, de Henry Purcell, que se eternizou na versão de rock psicodélico (ou progressivo) apresentada pelo filme.
Nos primeiros segundos, conhecemos Alex e seus droogs para acompanhar uma noite típica de seu estilo de vida, desfrutando da luxúria da ultraviolência.
There was me, that is, Alex, and my three Droogs, that is, Pete, Georgie, and Dim.
É verdade que elegi Laranja Mecânica para este primeiro desensaio principalmente por perceber que a maioria das pessoas nunca viu o filme, apesar de usarem suas referências a torto e a direito. De fato, o filme é polêmico e foi proibido em muitos países em seu lançamento, inclusive no próprio Reino Unido e aqui no Brasil, durante a ditadura militar. Portanto, não vou relatar o filme aqui, pois me recuso a recorrer ao péssimo hábito de críticos de cinema que, em vez de trazer seu olhar sobre os pontos que elegeram para seu texto, contam o filme inteiro e, pior, explicam! Ora, não serei eu uma ingrata após assistir uma obra tão generosa, que respeita a inteligência de seu público.
Isto não é uma crítica. É um desensaio.
A generosidade de Kubrick é mérito dividido com o autor da obra original na qual o filme é baseado, Anthony Burgess. O diretor foi fiel ao livro, lançado em 1962, até onde pôde – isto é, até os minutos finais. É excelente trabalho de ambos, portanto, a apresentação detalhada da figura de Alex DeLarge, o sanguinário líder da gangue de delinquentes juvenis que se refestela ao espancar mendigos, invadir casas e estuprar mulheres. Alex é desprezível, e o sentimento de ódio pela personagem é construído com consistência para o público até o momento de sua prisão. (Opa, eu não vou contar o filme, mas também não me venha reclamar de spoilers de uma obra lançada há 55 anos.)
Um importante ponto de inflexão do roteiro é a revelação de que Alex é um adolescente. A escolha do ator Malcolm McDowell, à época com 27 anos, para interpretar um jovem de 15, certamente ajuda no estranhamento. Mas Laranja Mecânica sabe trabalhar os contrastes: é um futuro distópico, mas a trilha sonora remonta ao século XVII. O design das casas é futurista, mas o figurino da gangue é inspirado na juventude britânica da década de 60.
Burgess, aparentemente, não quis datar sua obra. Talvez porque não queria arrumar confusão – talvez seria o mesmo motivo pelo qual criou termos inspirados no idioma russo que são inteligíveis apenas por contexto (ou nem isso, muitas vezes). O que é que é droogs e horrorshow? A saber: não é drogas nem show de horrores.
Por essas e outras, é fantástico assistir a um filme que não pretende induzir seu pensamento. Que respeita sua percepção. É de melhorar a autoestima, realmente. A ojeriza dá lugar ao riso em momentos muito próximos; a nudez e a violência gráfica chegam a borrar um limite perigoso para o espectador. O que eu assisto me incomoda ou me diverte? Me entretém, de fato.

Linguagem técnica não tenho para falar de cinema. Me resigno a dizer que o jogo abrupto de cenas, pulando de um indefeso Alex no leito da enfermaria para um close-up de suas pálpebras presas por ganchos, num corte seco, é elegante e aterrador na medida certa. É representação gráfica de tortura — inclusive, McDowell afirmou que a sensação foi real —, mas guarda seu verniz.
Uma curiosidade: o equipamento usado no ator é o blefarostato, usado em diversos procedimentos oftalmológicos. Há três anos, tive a experiência por alguns minutos, durante uma cirurgia refrativa. Ao todo, foram 15 minutos de olhos abertos pelo aparelho. Embora a ferramenta seja muito mais delicada que a usada em set na década de 70 e o procedimento seja indolor, é uma angústia complicada de descrever.
A estetização das cenas de violência é lei na obra de Kubrick, inclusive. Num momento, uma mulher completamente nua é disputada a tapas por vários homens numa dança ritmada que acontece no palco de um teatro abandonado. É como ver um quadro renascentista animado. O que dizer, então, da coreografia de Alex durante uma das cenas de ultraviolência mais icônicas do filme? Gene Kelly, diretor e protagonista do clássico Cantando na Chuva (1952), não gostou nada de ver sua música interpretada naquele contexto. Compreensível.
Em outra cena, tentando vitimar outra mulher, Alex se vê numa briga com uma peça de arte em formato de pênis. eu, que rio e me divirto ao passo que me assombro e desvio o olhar, fico a sós com meus pensamentos. Kubrick entrega o desconforto e segue com o filme. Não é mais problema dele. E eu que me resolva com minhas dúvidas.
Dali, segue o esperado: o tratamento Ludovico, a esperança de Alex que, transformado num cordeirinho na prisão, procura desesperadamente sair dali, e a oportunidade oferecida pelo ministro. De joelhos por sua liberdade, ele se submete a um tratamento bizarro que consiste em ser exposto às perversidades que já cometeu. Se sucede uma série de humilhações nas mãos de médicos, do governo e de suas antigas vítimas.
A promessa é de transformação. O delinquente se tornará uma pessoa de bem, será totalmente recuperado e estará pronto para ser reintegrado à sociedade. O método Ludovico é certeiro: traumatiza Alex a ponto de lhe causar fortes efeitos físicos quando pretende voltar aos velhos hábitos da ultraviolência. Agora ele é um cidadão de bem.
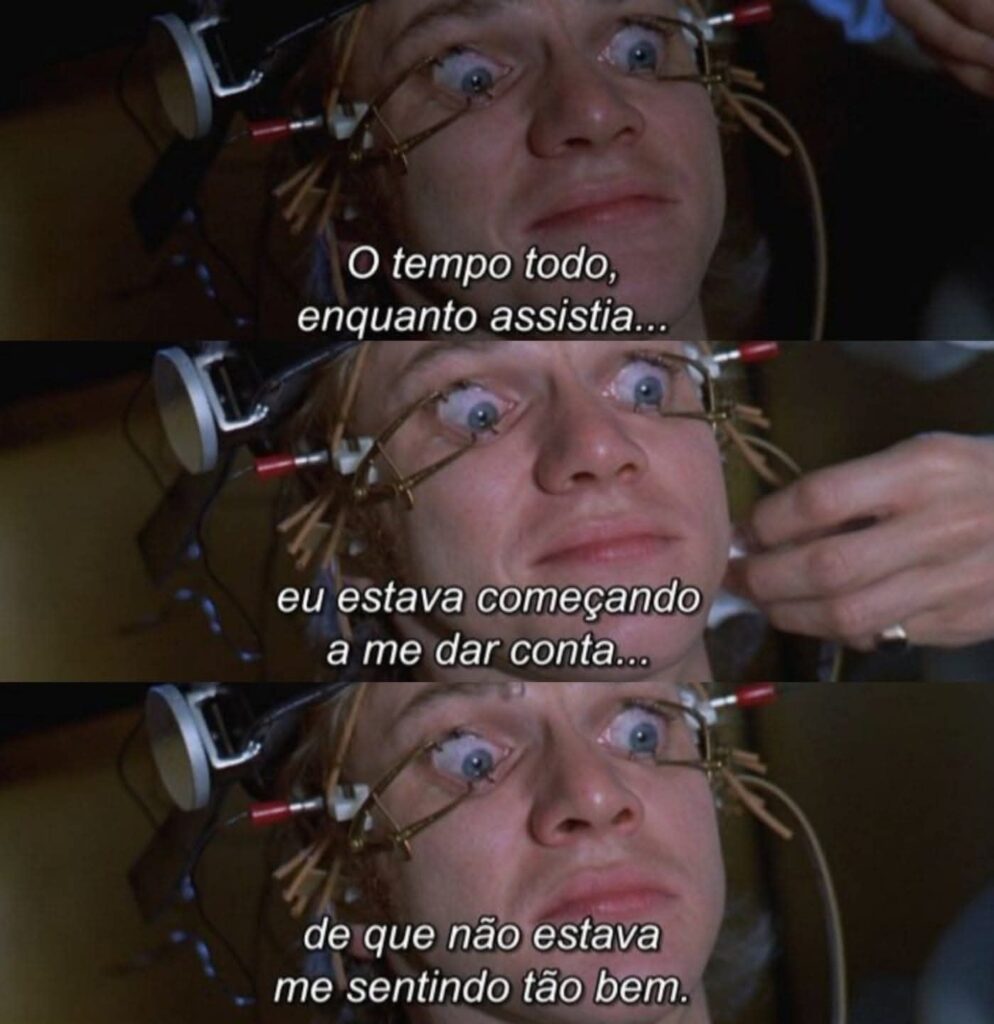
Burgess e Kubrick caminharam juntos até aqui, mas a cisão inevitável é no capítulo final. A evolução moral como escolha e não imposição é o crivo de Burgess ao finalizar o livro com a mudança genuína de Alex. O livre-arbítrio, mesmo usado para o mal, deve ser respeitado. Robotizar as pessoas não soluciona a degradação moral. Por outro lado, Kubrick opta por um desfecho mais realista, focando na natureza da perversão.
Alex, como qualquer outro adolescente, vive em constante rebelião interna. Seu sadismo existe, mas não convive amigavelmente com a sensibilidade de um apreciador de música clássica. A tortura se concretiza quando estes dois lados são forçosamente colocados de frente um para o outro.
É possível recuperar um marginal? Depende. À margem de qual regra ele se encontra? De qual perversidade ele padece? Daquela que condena a sociedade ou daquela que a sustenta?
O trauma é o resultado de um confronto que acontece sem preparo, mas nada pode o trauma contra a perversidade recompensada. A perversão é uma criação civilizatória — e a ultraviolência, uma tentativa desesperada do humano retornar ao seu estado original.
Ps.: Isto não é uma crítica, é um desensaio.

Deixe um comentário